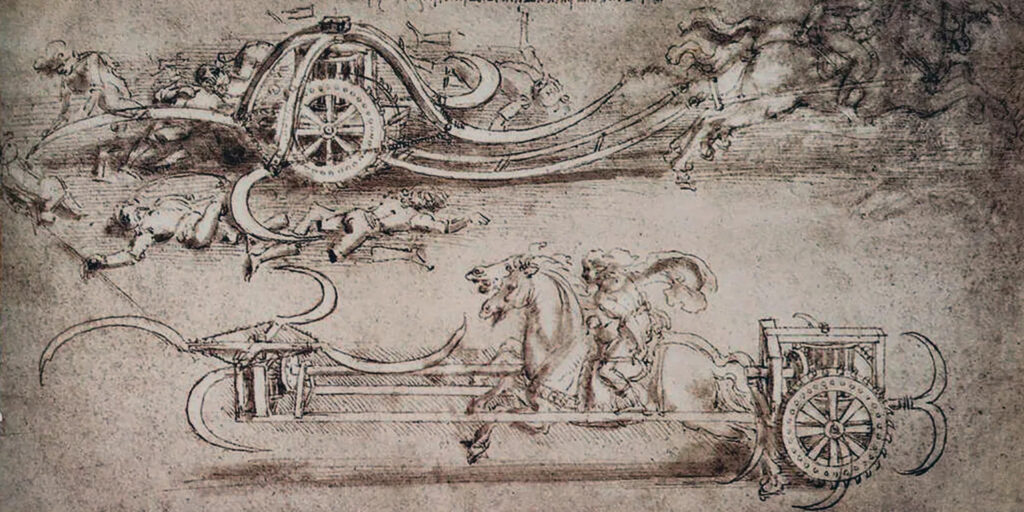Jocê Rodrigues
Temos dois terrores, a lembrança do passado e o medo do futuro. Pedro Nava
O homem contemporâneo vive uma condição única. Está sempre acompanhado, mesmo quando sozinho, e vice-versa. Quando sozinho, vê-se cercado de almas penadas que vagam livremente pelos sinais de Wi-Fi e que se manifestam nas telas dos computadores, celulares e relógios inteligentes por meio de mensagens, e-mails, propagandas e redes sociais. Quando está acompanhado, por vezes sente na pele uma das principais sequelas da hipervelocidade: conversas desarticuladas, sem estofo, sem atenção e quase sempre de cunho egoísta.
Diante das telas e aplicativos, o tempo se encolhe, míngua. Dias e noites parecem passar mais rápido sem que se tenha oportunidade verdadeira de aproveitar o seu cheiro ou o sabor dos seus frutos. A impressão que fica é que sempre estamos a plantar algo, mas nunca a colher. Somos hoje agricultores do nada, arando uma terra digital infértil e atirando ao solo da vinda interior sementes incapazes de vingar.
Dentro desse cenário, pensar com profundidade sobre as consequências do uso da tecnologia se tornou ação mais que necessária. Mas não era assim até recentemente. Embora o debate sobre o emprego de máquinas e invenções na vida cotidiana do homem seja bastante antigo, somente com a aceleração proporcionada pela revolução industrial e, depois, de modo mais agudo e acentuado, com o advento da internet e das tecnologias da informação, o assunto tornou-se incontornável.
E, como era de se esperar, diversos posicionamentos foram construídos diante dos novos problemas que passaram a acossar o corpo e a psique, cada uma com sua própria interpretação e modo de agir frente a uma nova e radical realidade. Dentre elas se destacam as vertentes que tratam da influência direta ou indireta do avanço tecnológico no comportamento humano.
Para Gustavo Corção (1876-1978), que além de escritor e jornalista era engenheiro de formação, a tecnologia é como uma espécie de monstro dócil que depende primeiramente das decisões humanas: “no que concerne à civilização e à sorte do homem, a técnica é neutra. Não traz nem tira a felicidade. Pode contribuir hoje para o bem-estar, e assim, de um modo subalterno, trazer uma contribuição de felicidade”. Ou seja, quem determina o seu verdadeiro valor é o ser humano que está por trás dela. Ele é quem define o seu uso e calcula, ou não, as suas consequências. A tecnologia, no cenário descrito por Corção, é “um leviatã dócil. Quem nem sempre é dócil é o homem que assina a ordem de serviço”.

Um ponto de vista que do seu próprio jeito ecoa aquilo que escreveu Oswald Spengler, filósofo esquecido mas necessário para uma melhor compreensão das mazelas que hoje nos afligem a alma. De acordo com ele, como mostrado em seu O Homem e a Técnica (1931), “para compreender a essência da técnica, não devemos partir da técnica da era da máquina e muito menos da ideia enganadora de que a construção de máquinas e utensílios seja o objetivo da técnica”. Portanto, a técnica está diretamente ligada à vontade daqueles que criam as ferramentas: “o que importa não é como se fabricam as coisas, mas o que fazemos com elas”.
As visões de Corção e Spengler divergem daquela defendida por Arnold Toynbee, que não acreditava na inocente neutralidade da tecnologia e dava a ela uma posição de influenciadora nas tomadas de decisões humanas. Ou, nas palavras de John M. Culkin, padre jesuíta que foi colega de Marshall McLuhan em Harvard: “nós moldamos nossas ferramentas e, a partir daí, nossas ferramentas nos moldam”.
Mesmo que sejam diferentes, essas duas concepções sobre o papel da tecnologia (uma que aposta na responsabilidade do homem e outra que acredita na influência da ferramenta sobre o seu criador) parecem convergir quando se pensa na atual condição humana: voluntariamente refém da própria criação, dispersa no tempo (que antes era uma meta de descoberta, mas que hoje não passa de uma vaga sensação), à deriva e sem bote salva-vidas à vista. E mesmo áreas como o Direito, portentoso arvoredo distinguível mesmo a distância no jardim do tempo, encontra-se hoje entre a cruz e a espada diante da seguinte questão: acelerar para se adequar às demandas da hipervelocidade tecnológica ou permanecer em caminhada ritmada a fim de conseguir perceber melhor as nuances que ocorrem através do tempo?
As discussões jurídicas recentes sobre memória e esquecimento na internet apontam para as novas necessidades e preocupações que vão surgindo com os novos meios de armazenamento de dados, assim como também o fazem os debates sobre as possíveis implicações da promessa de um metaverso e o uso de inteligência artificial na aceleração e hipertrofia de diversos processos da vida, incluindo a literatura e as artes (últimos redutos culturais da vida interior).
Se, assim como o tempo, a tecnologia tudo permeia, resta mais que claro que também fazemos parte dessa equação. Um fato irremediável e irreversível. Por isso, é mais do que necessário perguntar sobre os limites da nossa capacidade de refletir sobre questões relacionadas aos efeitos da tecnologia na vida humana. Somos realmente capazes de tomar decisões claras ao mesmo tempo que participamos e vivemos em uma atmosfera cada vez mais repleta de bits e bytes? Estaria a nossa relação com o tempo, cada vez mais conturbada e anestesiada, ameaçada de um tipo de extinção pela necessidade urgente de novas dinâmicas, de novas fontes de sustento, por conta das enormes mudanças tecnológicas que trazem consigo um profundo desencanto?
Enquanto alguns preferem seguir na direção do que pregava Martin Heidegger, que disse em uma famosa entrevista concedida à revista Der Spiegel que a civilização havia chegado a um ponto em que “só um Deus pode nos salvar”, outros preferem a linha de pensamento proposta por Corção, segundo a qual não é a tecnologia que deve ser temida e sim seus operadores: “tenho mais medo, por exemplo, de um concurso de filosofia do que de um invento físico; porque é daquele concurso que vai sair a data, o endereço e a aplicação da bomba de hidrogênio, e não a própria bomba”.
Entre otimistas e pessimistas, o fato é que a nova dinâmica do tempo, artificialmente acelerado e com seu jardim quase inteiramente soterrado, repleto de meras sombras de visitantes ausentes, apresenta-se como sintoma de uma sociedade amplamente tecnológica e em fuga de si mesma, aparentemente desencantada da concretude da realidade que a cerca.
Como apontei mais acima, as duas visões parecem ser complementares. De fato, é o homem que define a função da máquina. Também me parece igualmente verdadeiro que a relação entre ambos cause uma espécie de feedback, pelo qual o criador passa a ser influenciado pelos feitos e efeitos da criatura, que é inteiramente capaz de modificar costumes e ações.
No entanto, o ponto mais importante dessa relação recai nas características naturais do criador (o próprio ser humano), que sob a certeira ótica pascaliana é finito, imperfeito e estruturalmente insuficiente; que vive corroído pela angústia e pelo tédio, preso em um labirinto cognitivo que o faz experimentar apenas os vestígios do tempo, como migalhas espalhadas por uma estrada mal iluminada; numa duração que flui por entre dúvidas inalcançáveis e falsas certezas, entre analógico e digital, entre o que é e o que ainda pode vir a ser.

É óbvio que Corção e Spengler não devem ser lidos com o coração apontado para uma defesa delirante do passado, de um desejo por uma viagem no tempo em busca das ilusões perdidas. Afinal, é preciso deixar claro que não estamos a falar de dois náufragos agarrados aos destroços de um navio que há muito se partiu. Tampouco este texto deve ser lido dessa forma. A flecha está lançada e o retorno é impossível. Ponto.
O tempo de agora não passa de um jeito diferente do da época de More e dos defensores de um tempo absoluto. Ele não flui mais rápido, nem mais vagaroso. O que mudou foi a nossa percepção sobre ele. Quanto mais bombardeados de informações e infinitas variedades de divertissement, mais anestesiados ficamos aos sabores e às fragrâncias do tempo.
Porém, o que provavelmente ainda é possível, embora com extrema dificuldade, é uma mudança de rota, que passa obrigatoriamente por uma profunda revisão dos passos dados até aqui. Uma reflexão que precisa partir do ponto de vista individual, biográfico – talvez guiado por aquelas perguntas indicadas pelo filósofo espanhol Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, em conferência dada em Madrid: “¿Quién soy yo?” e “¿Qué va a ser de mí?” (“quem sou eu?” e “o que vai ser de mim?”).
Duas perguntas-chave que causam tremor e que carecem de tempo. Perguntas para as quais as respostas exigem bem mais do que uma busca no Google ou um tutorial no YouTube. Com elas nos colocamos frente a urgências que nos instalam numa posição que torna capaz a contemplação da dura mas bela realidade sobre o fenômeno do tempo: apesar de todos os malabarismos que hoje fazemos para entendê-lo e mensurá-lo em um delírio egocêntrico (tomando como ponto de partida a falsa impressão de que, de algum modo, nossas ferramentas conseguiram domá-lo e até mesmo acelerá-lo), o tempo pouco se importa com ou quer saber de nós e de nossos brinquedos mais avançados.