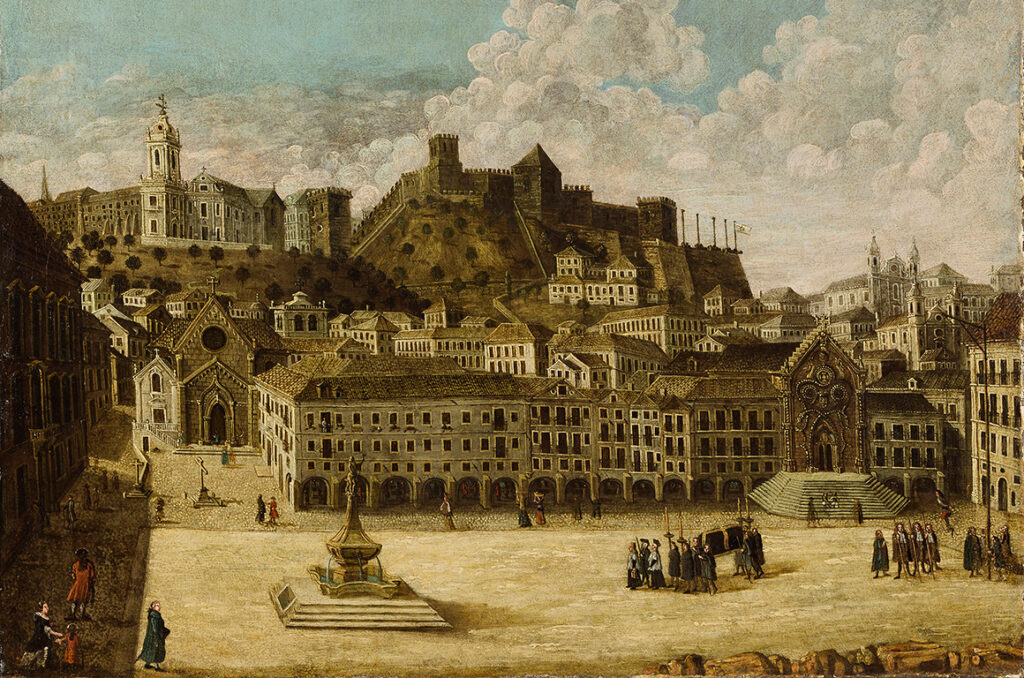Maria José Leite Pereira
Maio foi um mês empoeirado, com noites longas e desconfortáveis habitadas pelo desejo de mar. Antes das seis da manhã, o despertador salvou-me de pesadelos em preto e branco do sono inconsistente causado por um comprimido de desloratadina e cloridrato de azelastina em spray. Chuveiro, escova de dentes, vestir-se, preparar o lanche, organizar mochilas, um pedaço de pão, e uma chávena de café.
Colhi as cores que surgiram atrás da Serra do Caramulo, manhã de primavera. Um muro em pedra protegia o jardim mágico, espreitei a luz peneirada pelas copas das árvores através das grades do portão enferrujado, um tapete dourado estalava sob os pés dos meninos que perseguiam borboletas, uma menina esbelta com asas de fada costuradas ao vestido pendurava-se no baloiço e simulava um voo sob o olhar atento das outras que controlavam o tempo até chegar a sua vez, os relógios analógicos não fazem tic tac, o tempo passa celeremente em siléncio. Viajo em um comboio de alta velocidade que perfura a montanha, atravesso um túnel escuro e acordo em outro país, no entra e sai de passageiros não reconheço todos os companheiros de viagem, mas sei aonde quero chegar.
Às oito horas da manhã cheirava a garam masala, e uma panela de pressão bufava debaixo do meu queixo enquanto passava um produto desengordurante no exaustor. Quatro braços de Shiva mexiam-se habilmente para mudar lençóis de camas, lavar vasos sanitários, aspirar carpetes felpudos, e limpar um altar onde se encontravam flores perfumadas, a escultura de um Deus indiano, e uma moldura ladeada por uma grinalda que aconchegava a fotografia do Dono da casa. O homem no altar já morreu, mas parece ser uma figura dominante naquele espaço, ocupando o maior cómodo da casa, senti-me intimidada por seu olhar imponente, mas também pelos passos leves da viúva que andava atrás de mim a dar indicações sobre o que fazer nos próximos noventa minutos.
A colega surgiu ao cimo das escadas a segurar o balde e a esfregona, a cara transpirada anunciava o fim daquele serviço. A carrinha branca deslizou pela cidade, limpamos um pavilhão, uns escritórios, balneários, e ainda faltava – nos dois condomínios. O tempo passa intangível, como os pastorinhos de Fátima mergulhados em um líquido viscoso dentro do globo à venda na feira de antiguidades, eternas crianças de mãos postas olhando para Nossa Senhora em cima da azinheira, imagem que percorreu o Sertão brasileiro e fez jorrar lágrimas dos olhos dos crentes. Num ímpeto, a voz da colega ressoa como as badaladas do antigo relógio de pêndulo que regulava o tempo na sala da minha Tia Francisca: “olha o bairro vermelho”.
Antes da rotunda, os prédios esverdeados passaram apressadamente, nas varandas e marquises viam-se os contornos femininos em langerie, bonecas de cera movendo-se em pequenas caixas. Em 2019, haviam surgido na televisão com os rostos desfocados e sotaque inconfundível, a notícia atravessou o noticiário televisivo e tornou-se burburinho no campo pantanoso das redes sociais, comentários borrifados de ironias saltavam dos ecrãs sufocados nos bolsos das nossas batas azuis. Pá, vassoura e um saco de lixo, não queríamos varrer a discussão para debaixo do tapete, mas a pandemia silenciou o assunto de tal forma que me pareceu que o bairro vermelho tinha deixado de existir.
No primeiro andar, enrolamos os pequenos tapetes às portas dos apartamentos com cuidado para o cão do 1º direito não ladrar, não o víamos, porém ele estava lá, tal e qual as senhoras do bairro vermelho que desapareceram na escuridão pandémica e ressurgiram em acenos naquela manhã de primavera asfixiada por uma tempestade de areia intercontinetal. Na escadaria do quarto andar minha companheira de trabalho reclama ofegante: “isto não tem jeito nenhum, se ainda estão ali é porque tem quem recorra ao serviço”, seu comentário revelava uma vaga insatisfação com o sistema, dentro da sua praticidade não se incomoda com o ofício de outras mulheres, mas com o fato de elas viverem no limiar da legalidade, sem descontos para Segurança Social.
Ultrapassamos o vácuo imposto pelas autoridades, conversamos sobre uma das capas da revista Time do ano de 2003, “Europe’s new Red Light District“, edição dedicada à prostituição de mulheres brasileiras em Bragança, norte de Portugal. Nesse ínterim, uma parte do material de limpeza descia no elevador, enquanto nós nos precipitamos pelas escadas para reparar nos detalhes: teias de aranha, corrimãos sujos, e uma pastilha elástica grudada ao chão. Medimos nossas ações e palavras, alguns assuntos são restritos como degraus estreitos onde não se deve colocar o pé em falso, deslocando-nos com cuidado a contar com a possibilidade diária de um olhar opressor nos enquadrar em algum estereótipo. Rimo-nos dos nossos reflexos no espelho do elevador, o turno da manhã acabou.
No âmago dessa complacência feminina, sob o olhar atento dos animais presos nos painéis de azulejos, portuguesas e brasileiras revezam-se na chapa quente, na máquina de finos e no caixa. Debaixo do viaduto de Sete Rios em Lisboa, encontra-se uma rulote aberta ao público, das vinte e duas horas às seis da manhã; frequentada por trabalhadores do metro, taxistas, operários fabris, e um público diversificado de jovens consumidores de hambúrgueres, cachorros quentes, refrigerantes, cervejas e cafés. Colcha de retalhos estendida debaixo do eixo Norte/Sul, recinto de trabalho e sociabilidades de mulheres que persistem em permanecer no centro a despeito de qualquer tentativa de as empurrar para as margens.
Nuvens cinzentas afastam-se para contornar um coração azul no céu, e lá estava eu de regresso às minhas bases. Fechei os olhos, e deixei-me abraçar pela cadeira aveludada do pequeno anfiteatro, naquele instante de conforto a consciência flutuou sobre mim fazendo emergir imagens: o trabalho na fábrica onde se embalava carne, homens e mulheres vestidos com macacões brancos semelhantes aos que os profissionais de saúde usaram na pandemia; idosos gemendo nos lares; limpar escadarias; a fotografia de um homem no altar; e mulheres encaixotadas, o bairro vermelho de Viseu desapareceu no virar da Avenida.
Luz e sombras alternaram-se, mãos habilidosas tocaram um piano, suspirei, meu corpo vibrou entre as cordas do instrumento e um olhar inequívoco que rompeu o nevoeiro espesso da hierarquia social, sonhos coloridos abrindo fendas na realidade. O alarme do telemóvel tocou “Morning Flower”, não queria acordar, mas o comboio do porvir seguia a todo vapor. Minha alma deslocada observou gestos automáticos de um corpo que não lhe pertencia: nudez sob o manto d’água do chuveiro, roupas na máquina para estender, a máquina do café ligada, e mais um dia para viver.