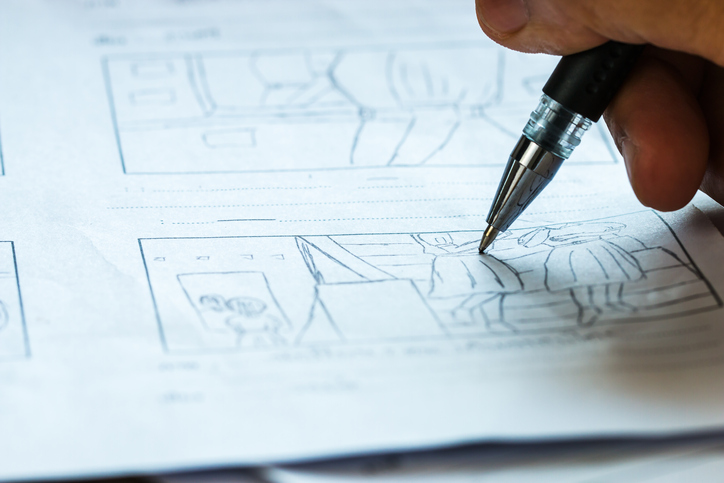Leia a Parte I aqui
Rafael Senra
O que entendemos como histórias em quadrinhos é uma forma de arte relativamente recente, cuja trajetória cronológica de pouco mais de um século se assemelha, por exemplo, à do cinema. Contudo, Gazy Andraus menciona que, se pensarmos nas HQs como arte sequencial através de imagens justapostas, é possível rastrear as origens do gênero em um momento ainda mais distante no tempo:
Embora as histórias em quadrinhos, como as conhecemos, existam há quase cento e cinqüenta anos, foram iniciadas na aurora humana, quando os primeiros homens principiaram a narrar seus cotidianos por meio de desenhos dentro das grutas e cavernas que lhes serviam de abrigo: os traços e pinturas desenhadas faziam os registros “escritos” do homem, antes mesmo da consolidação da escrita conforme a conhecemos. A passagem das histórias em quadrinhos, como algo ainda primordialmente básico, para uma forma comunicacional nova e moderna adveio da propagação jornalística, graças à prensa de Gutemberg e à conseqüente evolução tecnológica, principalmente aos fins do século XIX. Os jornais impulsionaram os quadrinhos, em forma de comic strips, do mercado de informação norte-americano para todo o mundo, aos poucos impingindo sua hegemonia cultural, ajudando a consolidar o que se convencionou chamar de “cultura de massa” (Andraus, 2006, pp. 6-7).
Através dessa citação de Gazy Andraus, podemos perceber que, mesmo antes da fundação dos quadrinhos enquanto um gênero instituído, havia expressões artísticas que podem ser consideradas exemplares de arte sequencial. De acordo com José Alberto Lovetro (Jal),

Temos exemplos de arte sequencial nos hieróglifos egípcios, nos panôs e desenhos nas igrejas da Via Sacra de Jesus, difundidos na Idade Média, e até nos túmulos de reis, onde havia sequências de sua dinastia em alto relevo. A Tapeçaria de Bayeux é uma obra feita em bordado (século XII), para comemorar os eventos da batalha de Hastings (14 de Outubro de 1066) e o sucesso da Conquista Normanda da Inglaterra, levada a cabo por Guilherme II, Duque da Normandia. Mede cerca de setenta metros de comprimento por meio metro de altura, com os textos incorporados aos desenhos, de tal forma que se torna uma verdadeira tira de quadrinhos gigante. Em alguns panôs impressos em xilogravura no século XVIII, na cidade de Épinal (França), temos até a invenção do balão saindo da boca de personagens com as falas coloquiais da época. Linguagem escolhida por Jean-Charles Pellerin para popularizar histórias da Revolução Francesa, novelas e histórias de santos. Até o século XVII poucas pessoas eram alfabetizadas. Por isso, a imagem foi tão importante. Até um analfabeto consegue absorvê-la. Surdos-mudos entendem. Crianças entendem. Homens das cavernas entendiam (Lovetro, 2011, p. 11).

Scott McLoud elenca outros importantes momentos históricos em que registros míticos de antigas civilizações parecem ser semelhantes ao modelo sequencial justaposto dos quadrinhos como os conhecemos. Ele desmonta um manuscrito em imagem pré-colombiano descoberto por Cortés em 1519 (e que provavelmente remonta ao ano 1049), e o separa em quadrinhos sequenciais e possíveis narrações (baseadas em interpretações do historiador e arqueólogo mexicano Alfonso Caso) (McLoud, 1995, pp. 10-11). Ele realiza o mesmo procedimento de organizar “quadrinisticamente” a Tapeçaria de Bayeux, (citada acima por Jal) (McLoud, 1995, p. 12). O exemplar mais antigo “quadrinizado” por McLoud é uma pintura egípcia de 1300 a.C., feita para a tumba de Menna, um antigo escriba egípcio. Apesar da forma de leitura ser organizada em zigue-zague (e não da esquerda para a direita, como os ocidentais leem), é plenamente possível organizar tal pintura em quadrinhos (McLoud, 1995, pp. 14-15).
O que efetivamente possibilita que iniciativas como essas se transformem nos quadrinhos como os conhecemos é a invenção da imprensa. Pinturas como as de William Hogarth, cuja coleção “O progresso de uma prostituta”, datada do século XVIII, se compunham de seis pinturas que deveriam ser vistas lado a lado, sequencialmente. Logo após a exposição das pinturas, elas foram vendidas como um portfólio de gravuras (McLoud, 1995, pp. 16-17). Esse é um dos exemplos de como as tentativas de arte sequencial envolvendo imagens poderiam se beneficiar das possibilidades que a imprensa oferecia.
McLoud discute como a repercussão crítica dos quadrinhos ao longo dos anos foi obscurecida pelas conotações negativas em torno da atividade – as HQs foram consideradas quase sempre como arte “menor”, atividade para crianças, e também vistas como um meio desprovido de recursos para comunicar conteúdos de maneira satisfatória. Dispostos a se afastar do estigma de serem “quadrinistas”, diversos profissionais do meio preferem ser chamados de “ilustradores”, “artistas comerciais” ou mesmo “cartunistas”. Por outro lado, obras como a elogiada sequência narrativa de xilogravuras de Lynd Ward intitulada woodcut stories, a despeito de seu prestígio, dificilmente é reconhecida como quadrinhos, apesar de sua óbvia representação de arte sequencial (McLoud, 1995, p. 18).
Assim, enquanto propostas que se valem de uma proposta de arte sequencial deixam de ser vistas sob o prisma de quadrinhos (como vitrais religiosos, hieróglifos egípcios ou as sequências em série das pinturas de Monet, por exemplo), outras tantas propostas são rotuladas como quadrinhos apenas por se utilizar de pressupostos convencionalizados em seu vocabulário visual (por exemplo, alguns quadros de Wolinski, com fontes e traços comumente encontrados em diversas HQs, porém representados em apenas uma cena, desprovidos, portanto, de um caráter sequencial). McLoud fala sobre como as discussões sobre quadrinhos costumam ser restritivas ao categorizar diversos gêneros e procedimentos como sendo próprios dos quadrinhos (McLoud, 1995, pp. 21-22).
Na verdade, se pensamos na essência da atividade, a definição de quadrinhos como “arte sequencial” não deveria envolver detalhes técnicos como tipos de papel, de canetas, fontes, ou mesmo escolas de desenho e questões editoriais. Da mesma forma que não se define o cinema pela escolha de lentes, câmeras ou por métodos de atuação quaisquer. Em seu Writing for Comics (vol. 1), o escritor Alan Moore discute esse aspecto:
No esforço de definir os quadrinhos, muitos autores têm arriscado pouco mais do que rascunhar comparações entre uma técnica e outra, mais amplamente aceitáveis como formas de arte. Quadrinhos são descritos em termos de cinema e, com efeito, muito do vocabulário que emprego todo o dia nas descrições das cenas para qualquer artista provém inteiramente do cinema. Falo em termos de close-ups, long-shots, zooms e panorâmicas; é uma útil linguagem convencionada de instruções visuais precisas, mas ela também nos leva a definir os valores quadrinhísticos como sendo virtualmente indistinguíveis dos valores cinematográficos. Enquanto o pensamento cinematográfico tem, sem sombra de dúvida, produzido muitos dos melhores trabalhos em quadrinhos dos últimos trinta anos, eu o vejo, quando modelo para basear nosso próprio meio, como sendo eventualmente limitante e restringente. Por sua vez, qualquer imitação das técnicas dos filmes pelos quadrinhos faz com que acabem perdendo, inevitavelmente, na comparação. É claro, você pode usar seqüências de cenas de forma cinematográfica para tornar seu trabalho mais envolvente e animado que o de quadrinhistas que não dominam esse truque ainda, mas, em última análise, você acaba ficando com um filme sem som nem movimento. O uso de técnicas de cinema pode ser um avanço para os padrões de escrever e desenhar quadrinhos, mas, se essas técnicas forem encaradas como o ponto máximo ao qual a arte dos quadrinhos possa aspirar, nosso meio está condenado a ser eternamente um primo pobre da indústria cinematográfica. Isso não é bom o bastante (Moore, 2003, p. 3; tradução de Fernando Aoki, [revisada], acessada aqui).
Teóricos (ou mesmo artistas de quadrinhos) como Will Eisner e Scott McLoud tentaram mapear e conceitualizar procedimentos próprios e peculiares do gênero dos quadrinhos. Um dos mais conhecidos estudos nesse sentido foi feito por Umberto Eco, que, em sua obra Apocalípticos e Integrados, discute diversos elementos típicos das HQs. Seu objetivo é o de mapear “uma iconografia que, mesmo quando nos reporta a estereótipos já realizados em outros ambientes (o cinema, por exemplo), usa de instrumentos gráficos próprios do gênero” (Eco, 1979, p. 144). Ao analisar uma página da HQ Steve Canyon criada pelo autor Milton Caniff, Eco disserta sobre alguns elementos únicos dessa específica linguagem, e é esse repertório a que Eco se refere como sendo uma semântica dos quadrinhos (Eco, 1979, p. 145).
Ainda assim, é importante ressaltar que existem pontos de convergência entre linguagens como o cinema e os quadrinhos, e que não podem ser menosprezados. Essas duas mídias não apenas são expressões surgidas no mesmo período histórico, como também compartilham diversos procedimentos em comum. Por isso, é natural que alguns termos e técnicas funcionais em um desses setores possa ser pensado no outro setor. Para Eco, “o fato de que o gênero apresente características estilísticas precisas não exclui que possa estar em posição parasitária relativamente a outros fenômenos artísticos” (Eco, 1979, p. 150). Vale salientar que esse parasitismo – termo que, a princípio, parece estar impregnado de um tom supostamente pejorativo – , não é tomada pelo teórico como algo negativo:
Obviamente, num caso como esse, parasitismo não significa inutilidade. O fato de que uma solução estilística seja tomada de empréstimo a outros campos não lhe impugna o uso, desde que a solução venha integrada num contexto original que a justifique. No caso da representação do moto efetuada pela estória em quadrinhos, encontramo-nos diante de um típico fenômeno de transmigração para nível popular de um estilema que encontrou um novo contexto onde integrar-se e reencontrar uma fisionomia autônoma (Eco, 1979, p. 151).
Na medida em que fazer e publicar quadrinhos se torna cada vez mais uma atividade acessível – quer seja pela proliferação de editoras pequenas, pelos custos de edição mais em conta ou pelo acesso a materiais de qualidade, e mesmo às possibilidades digitais de se fazer HQs pelo computador e divulgá-las na internet –, percebemos que uma quantidade enorme de autores em todo o mundo conseguem alargar profundamente as definições outrora convencionalizadas para se pensar o gênero da arte sequencial. Tanto os críticos quanto os leitores têm tido dificuldade de acompanhar todo o material relevante que é constantemente publicado, ano após ano, em um volume crescente, e cujo saldo revela uma geração de novos autores conseguindo acrescentar e atualizar elementos à história dos quadrinhos.
Assim, ao pensar no panorama dos quadrinhos desde a 2ª metade do século XXI até a atualidade, temos pelo menos dois nichos através dos quais podemos situar as revistas e as graphic novels publicadas. De um lado, existe um amplo e popular nicho de quadrinhos comerciais, cujos pressupostos e cuja produção sempre presta contas a demandas mercadológicas, com um espaço cada vez mais restrito para iniciativas individuais e para expressões de criatividade e inovação. Nesse nicho, podemos situar, por exemplo, as HQs de super-heróis das grandes editoras Marvel e DC, ou, no Brasil, as produções de Maurício de Souza (os mangás japoneses parecem se converter em uma notável exceção, e em boa parte dos casos consegue aliar autonomia autoral e sucesso comercial).
Contudo, existe um outro nicho, menor em termos de popularidade e de royalties envolvidos, mas que tem presença garantida em revistas especializadas, resenhas críticas e estudos acadêmicos. Esse segundo nicho é marcado por ousadias conceituais e estéticas, em um processo de inovação que, a despeito da sazonalidade do mercado e da economia, tem encontrado fôlego para persistir até os dias atuais.
É importante mencionar que nem sempre há uma cisão radical entre esses dois nichos. Muitas editoras americanas, como Dark Horse, Image e Fantagraphics, por exemplo, tentam equilibrar em suas produções elementos tanto comerciais quanto autorais. As gigantes Marvel e DC há muitos anos perceberam que tal equilíbrio é salutar para suas empresas como um todo e vez ou outra publicam materiais que mesclam aspectos comerciais e autorais. Algumas dessas produções geram um interesse atemporal e continuam registrando vendas significativas ao longo das décadas, incentivando republicações (muitas vezes em formatos luxuosos estilo graphic novel, com capa dura, papel de melhor qualidade etc.).
E é na DC Comics que encontramos uma das mais bem sucedidas iniciativas de unir essas duas pontas: o selo Vertigo, que desde os anos 1980 não só publicou histórias consumidas e discutidas com interesse até hoje, mas também revelou nomes como Neil Gaiman, Alan Moore e Grant Morrison, diversos deles tidos como alguns dos maiores artistas de quadrinhos em atividade. Além disso, mercados fora dos EUA ao longo dos anos também têm se pautado por esse equilíbrio entre comercial e autoral, e bons exemplos disso seriam algumas editoras europeias, como a italiana Sergio Bonelli e a francesa Glenát.
Desde meados dos anos 1970 até a atualidade, houve uma inversão no impacto cultural e mercadológico em cada um desses dois nichos. O primeiro, o dos quadrinhos comerciais, tem apresentado resultados comerciais cada vez menores, enquanto que o segundo, o dos quadrinhos autorais, tem ampliado o leque de seus leitores. Com a entrada de novos suportes tecnológicos no mercado (os videogames nos anos 1980 e 1990, os computadores pessoais e a internet nos anos 1990 em diante, os jogos em rede etc.), aumentou drasticamente a concorrência de possibilidades de entretenimento para o público consumidor. No caso dos quadrinhos comerciais, o que lhes garantiu uma sobrevida foi o fato de que seus principais personagens têm fornecido conteúdo para diversas mídias, desde os games até o cinema – a ponto de alguns críticos afirmarem que as maiores HQs de super-heróis atuais são, em termos de mercado, mera propaganda para os filmes, estes, sim, rentáveis financeiramente. Paralelo a isso, os quadrinhos autorais têm conquistado um público cativo de leitores que começaram consumindo HQs infantis na juventude, mas que, ao crescerem e conquistarem poder aquisitivo, voltaram a consumir quadrinhos mais adequados à sua faixa etária. Como esse perfil de leitor tem aumentado nos últimos anos, não é raro encontrar em livrarias e bancas quadrinhos de caráter autoral muito bem editados, com acabamento luxuoso, e, consequentemente, com preços altos.
Alguns fatores peculiares podem ajudar na compreensão desse fenômeno. Um deles é que, assim como na literatura, uma história em quadrinhos é, em boa parte das vezes, executada por apenas um indivíduo (autor). De acordo com McLoud, os quadrinhos “são uma das poucas formas de comunicação de massa na qual vozes individuais ainda têm chance de ser ouvidas” – até porque os obstáculos que um autor de HQs tem que lidar “não são nada comparados ao que um diretor de cinema ou dramaturgo precisa enfrentar” (McLoud, 1995, p. 197).
Scott McLoud é um entusiasta da mídia dos quadrinhos e, através das suas pesquisas, defende que os quadrinhos possuem qualidades únicas, capazes de se converter em um fascinante veículo de transmissão de ideias, conceitos, narrativas e muito mais:
Os quadrinhos oferecem recursos tremendos para todos os roteiristas e desenhistas. Constância, controle, uma chance de ser ouvido em toda parte, sem medo de compromisso, oferece uma gama de versatilidade com toda a fantasia potencial do cinema e da pintura, além da intimidade da palavra escrita (McLoud, 1995, p. 212).
Comparar os quadrinhos com outros meios parece contraproducente, ainda mais se pensamos no potencial autônomo desse meio em especial. Da mesma forma que os quadrinhos oferecem algo único, também os parâmetros de utilização e de análise dessa mídia devem levar em consideração as suas características. Por fim, o diálogo desse meio com outros meios, seja a literatura, o cinema etc., revela-se um campo ainda mais fértil de possibilidades.
Leia a Parte III, “Adaptações de quadrinhos no Brasil”
Referências
ANDRAUS, Gazy. As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário. São Paulo, 2006. 1 v. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo, Perspectiva, 1979. LOVETRO, José Alberto. Origens das histórias em quadrinhos. In História em Quadrinhos: um recurso de aprendizagem. Ano XXI, boletim 01. Brasilia: TV Escola, abril de 2011. MCLOUD, Scott. Desvendando os Quadrinhos. Trad. Helcio de Carvalho e Marisa do Nascimento Paro. São Paulo: Makron Books, 1995. MOORE, Alan. Writing for Comics. Vol. 1. Urbana: Avatar Press, 2003 (tradução aqui por Fernando Aoki).
Este texto é uma versão ligeiramente modificada da tese de doutorado do autor, que pode ser encontrada aqui.